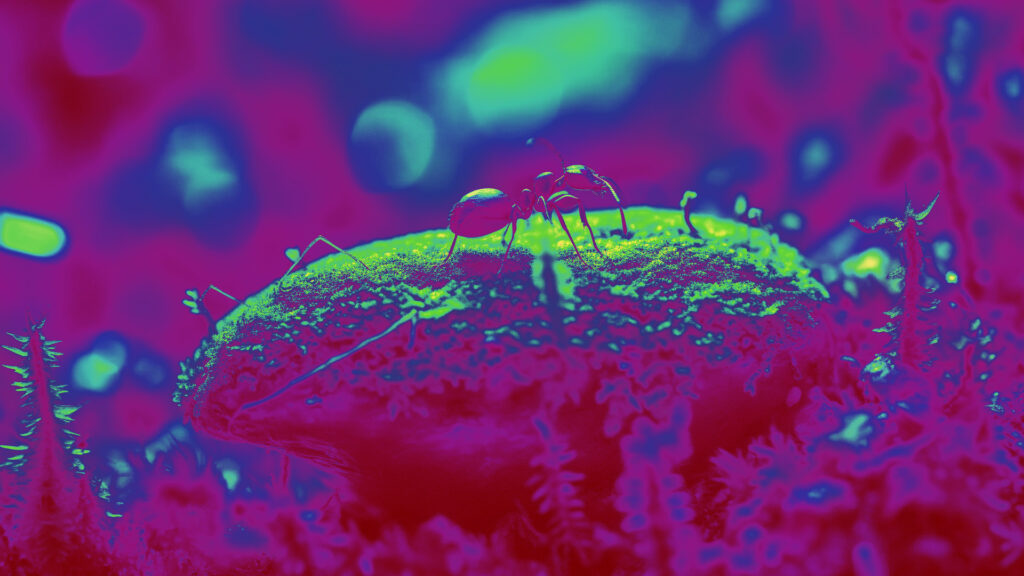Minha relação com a infância é de saudades. Não à toa, meu livro de estreia se chama “Infância” e fala com muita nostalgia de momentos ordinários, corriqueiros, como pular amarelinha, brincar de pique e esperar o Papai Noel na noite de Natal.
Você piscou e eu fiz aqui um comercial do meu livro. Pá! Na sua cara! Tal qual o Silvio Santos fazia com Jequiti na programação do SBT.
Se você está na casa dos trinta e muitos, tem grandes chances de termos vivido coisas parecidas, o que é mais um motivo para você comprar meu livro “Infância”: identificação.
Tá, parei com os espaços publicitários.
A minha infância no subúrbio foi de banho de mangueira no quintal da minha avó; de sair em bando no Cosme e Damião para pegar doce, tal qual uma quadrilha de pequenos meliantes dispostos a tudo; de ter cordão de caraca no pescoço depois de um dia inteiro brincando na vila; e de só voltar para casa depois da tia Sônia ter berrado o meu nome umas cinco vezes, me ameaçando de coisas que fariam a Xuxa se engajar pessoalmente em uma hashtag #FreeMaíra, se isso já existisse naquela época.
As coisas eram mais simples e, de fato, qualquer prazer nos divertia. Um desses prazeres, um verdadeiro acontecimento na vida do suburbano do fim dos anos oitenta era a ida à praia.
Para contextualizar, o meu país Méier não tem praia. A gente aqui não bobeia, mas fica a uma vida de distância das praias da Zona Sul e, antes da Linha Amarela, muito fora de mão para as praias da Zona Oeste.
As idas do suburbano à praia, na minha época de criança, eram fruto de uma preparação prévia, que incluía a feitura de sanduíches e lanches diversos, porque criança na praia dá muita despesa. É um picolé Dragão Chinês, é um mate, é um biscoito Globo… e tudo isso a peso de ouro. O suburbano não tem tempo e nem dinheiro, principalmente dinheiro, a perder, e o farnel era preparado com esmero para garantir zero despesa fora de casa.
A cena típica era a mãe suburbana com um guarda-sol, talvez uma cadeira de praia, seus três catarrentinhos, com uma única prancha de isopor a ser disputada a murros entre eles, uma prima, uma vizinha, uma colega da vizinha que encontraram no ônibus e o pai suburbano com uma caixa de isopor, já meio chupando manga, emendado com fita de embalar mudança, lotado de comes e bebes, chacoalhando por horas até chegar à praia. E sim, isso era lazer de qualidade ou pelo menos o preço que o suburbano pagava para ter o direito de refrescar o corpinho no calor infernal do Hell de Janeiro.
Quem era um pouquinho melhor de vida tinha um carro velho. Meu pai tinha um carro velho. Quando eu digo velho, é velho mesmo. Carro que já não paga IPVA e falta receber aposentadoria pelos serviços prestados. Carro que se você se mexe bruscamente periga pegar tétano. Carro que quando o sol bate no estofado sobe aquele cheiro de morte. Carro que ferve no engarrafamento e deixa os pobres que estavam dentro dele à deriva, num mar de outros carros velhos soltando fumacinha.
Essas são as minhas lembranças mais vivas das idas à praia da Barra da Tijuca: a tensão dos adultos porque o carro podia ferver a qualquer momento; meu pai com uma garrafa de Big Coke cheia de água para colocar no carro; e minha prima Louyze vomitando por causa da combinação promissora de criança que enjoa por tudo + calor + balanço do automóvel.
Em uma dessas idas à praia, minha prima Renata e eu, com mais ou menos sete anos de idade, estávamos sob a supervisão de três adultos. Quer dizer, mais ou menos sob a supervisão, porque meu tio lia jornal e nossas mães dormiam, enquanto nós duas brincávamos inocentemente na areia com nossos baldinhos, pazinhas e forminhas de estrela-do-mar.
Eu me lembro como se fosse hoje, estávamos confeccionando maravilhosos bolos de areia para um aniversário imaginário e precisávamos de algo para representar as velas. Tivemos a ideia de usar canudos. Gênias! Tinha canudo pra todo lado na areia, era só catar. E lá fomos nós, cabeça baixa, seguindo a trilha de banhistas porcos que haviam deixado seu lixo para trás.
Algumas dezenas de canudos catados depois, nos entreolhamos e percebemos que havíamos andado sem direção, para longe dos nossos responsáveis. Nos vimos perdidas, descalças na areia pelando, cercadas por um mar de gente.
Eu olhava em volta e não reconhecia ninguém, nem mesmo nossa barraca de praia, que a essa altura parecia igual a todas as outras. O desespero bateu quase que imediatamente. Ainda bestificada com a cagada que a gente tinha feito, eu tentava pensar. Renata, em prantos, me acusava de ser a culpada de tudo.
Em minha defesa, nós decidimos ir caçar canudinho de forma consensual, ninguém foi forçada a nada, mas isso não importava porque era a palavra dela contra a minha e eu já tinha uma vultosa ficha corrida diante das autoridades, vulgo, nossos pais.
Foi minha acusadora que, no meio do desespero, teve a ideia de pedir ajuda a um adulto. Eu achava que não tinha necessidade. Nós éramos perfeitamente capazes de desfazer a besteira que havíamos feito. Nós precisávamos ser capazes. Questão de necessidade mesmo, porque, àquela altura, o meu medo era o castigo que viria por sair de perto dos adultos na praia lotada. O meu instinto de autopreservação dizia que o melhor era sermos adotadas por uma família de tartarugas marinhas ou retornar sem que a nossa família percebesse que nós havíamos sumido, o que, obviamente, não aconteceu.
Escolhemos uma mulher com cara de “não como criancinha no café da manhã” e Renata foi lá pedir ajuda. A moça parecia um pouco confusa, mas veio. Deu uma mão para a menina se desmilinguindo em lágrimas e fluidos nasais e deu a outra mão para mim.
Quando encontramos nossa família, após breves minutos que pareceram uma eternidade, eles estavam desesperados achando que tínhamos nos afogado ou sido raptadas pela máfia que rouba criancinhas.
Assim que Renata avistou os pais, começou uma tentativa desesperada de tirar o corpo fora, repetindo uma frase que virou piada interna familiar:
— Viu, Maíra? Eu disse que não ia dar certo.
E não deu mesmo.