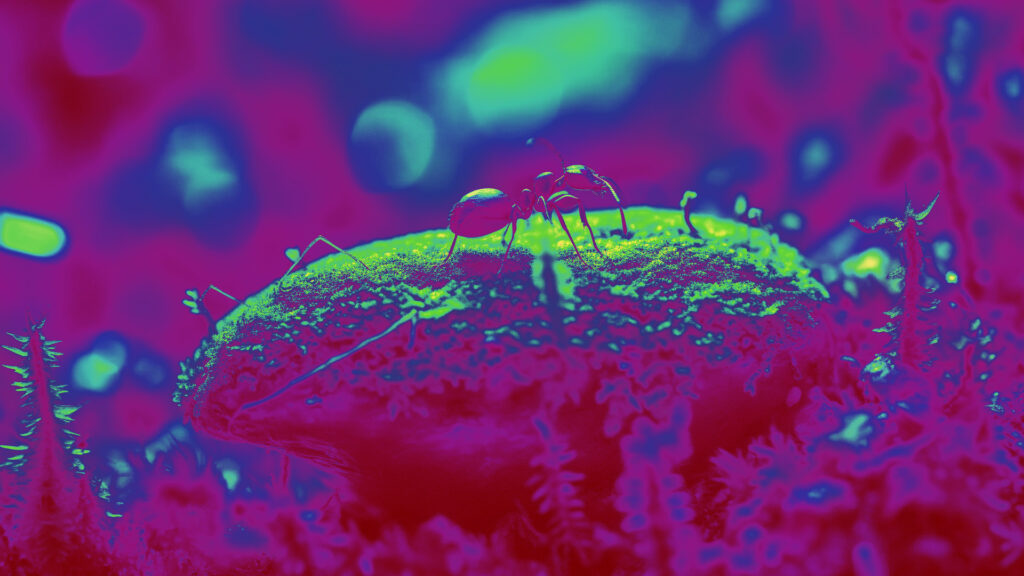Um reconfigurador de possibilidades de diálogo:
A voz
Ricardo Aleixo – A voz é, de fato, fundante em meu projeto, sempre foi. E voz deslocada dessa metaforização a que foi submetida pela crítica literária no Brasil (e em tantos lugares no mundo, mas prefiro me restringir ao Brasil), no sentido de ela significar, num discurso crítico, dicção no sentido de uma individualidade criadora. Exemplo: “fulano tem voz própria”: é isso que eu chamo de metaforização, voz própria.
Apesar de ser um país de cultura fortemente oral, pouca atenção se deu ao fenômeno voz no modernismo, por exemplo, ou recuando, no simbolismo (que é uma poesia fortemente calcada na exploração da camada fônica do signo verbal). Pouco se fez para tentar entender aquilo que Paul Zumthor vai chamar de marcas de vocalidade no texto, mesmo o Brasil dispondo de peças artísticas de inquestionável valor, como “Violões que choram”, que evidencia, a cada fonema, o pertencimento de Cruz e Sousa a essa linhagem de poetas que têm, a par de uma imagética rica e desbordante, vínculos fortes com a voz — inclusive, porque Cruz e Sousa, e outros poetas simbolistas, ficaram conhecidos por fazer intervenções públicas: durante a campanha abolicionista, às vezes, invadiam palcos de peças de teatro para dizer poemas. Porém, não temos estudos dedicados a isso. Mesmo quando se fala da poesia concreta, que ostenta como divisa essa palavra-valise, extraída da obra de James Joyce, que é “verbivocovisual”, a porção “voco” é, se não descartada, pouco valorizada nas análises, apesar de haver, hoje, um conjunto de gravações feitas em estúdios, ou capturadas em performances e espetáculos tanto de Augusto de Campos, quanto de Haroldo Campos, quanto de Décio Pignatari. Essa parte continua a ser, se não negligenciada de todo, pouco mencionada na maior parte dos estudos, com exceção para uma Flora Süssekind, que no seu livro mais recente (ela que já havia feito isso no livro anterior) analisa uma performance de Augusto de Campos, falando da voz dele e de como essa voz é trabalhada. Estou falando isso para dar o contexto no qual eu me situo. Meu livro Festim, publicado em 1992, cujo subtítulo é um desconcerto de música plástica, já dava notícias dessa inter-relação de códigos.
Então, eu sabia que tinha uma luta ali a ser vivenciada para levar adiante o meu projeto, que passava forçosamente pela voz, inclusive pelo fato de eu ser músico, de ser cantor, mas não apenas por isso. Era preciso mostrar a pertinência da questão da voz como elemento composicional do poema. Era essa a batalha maior, porque, se eu quisesse continuar a fazer da canção, como fiz em certa época da minha vida, minha principal forma de fazer arte, misturando palavra e som, acho que teria sido mais compreensível. Estamos num país em que a canção tem um papel muito importante na formação poética das pessoas. Eu não escapei disso, ninguém escapou. A gente começa ouvindo canções, depois que vai chegar até os poetas de livro.
Essa questão que mencionei há pouco, sobre as marcas de vocalidade, é central para a compreensão daquilo que faço, porque tenho dito, já há muitos anos, que não há praticamente nenhum poema que eu tenha publicado que não tenha sido, antes, vocalizado. E não vocalizo somente quando o finalizo. Vou, às vezes, compondo a partir do som. Tenho um ritmo (cantarola): “tan tan tan tan tan tan tan tan…”. Eu só sei isso, e aí vou distribuindo na página [essas células rítmicas]. Tenho vários cadernos [com exemplos assim], porque prefiro fazer isso caligrafando. Vou fazendo algo que depois vai ter uma cara, vamos dizer assim, de partitura, porque não dispõe de palavras ainda. Foi assim que cheguei ao verso “Impossível como nunca ter tido um rosto”. Quando falo, as pessoas acham que estou tirando onda, mas é real, eu não sei o que quer dizer essa frase. Sei que as palavras foram surgindo a partir de ritmos que, repetidos, me levaram a isso: “impossível como nunca ter tido um rosto”. E nem inovei nessa matéria, o poema que Maiakovski, quando se mata, escreveu para se despedir de Iessiênin começou assim também. Tem uma bela análise de Haroldo de Campos sobre essas marcações rítmicas a partir das quais o Maiakovski compõe esse réquiem. Foi com alegria que descobri esse texto do Haroldo, porque eu já fazia assim. Nesse sentido, opero por modos muito distintos daqueles poetas que se gabam de ser inovadores radicais na utilização de determinados métodos. Eu não, fico alegre quando percebo que algo que me parecia só meu já foi feito por alguém que admiro tanto.
Muita gente me diz que, depois de conhecer minhas performances, não consegue ler meus poemas silenciosamente, que precisam experimentar também. Assim, para resumir essa primeira resposta, eu diria isso: a voz é absoluta no meu projeto, como base de criação, como possibilidades de leitura, como performance. Aqui, ela reina.
A vocofobia
Ricardo Aleixo – Acho que existe, hoje, uma “vocofobia”. Por que a voz incomoda? Porque ela é corpo, se ela fosse apenas um suporte, um instrumento, uma ferramenta, ela não incomodaria, porque aí nós teríamos total domínio sobre ela, quando nós não temos domínio sequer da nossa própria voz. Eu me predisponho a ser frio e objetivo na conversa com você, mas a minha voz vai dizer outra coisa, e essa outra coisa é, no mínimo, ela, voz. Ela se diz. O que é a voz embargada? Veja, eu estou aqui, e, de repente, olho para o retrato da minha mãe para falar dela: impossível ficar frio diante de uma descrição da minha mãe, porque, se tenho uma voz, é porque tive essa voz e tenho essa voz. Muitas vezes, coisas que eu faço numa performance vêm da imitação da voz da minha mãe ou da voz do meu pai e, às vezes, vêm como atravessamento, por exemplo, eu decido partir para a improvisação e o que vem é um estoque de possibilidades vocais que nem imaginava que tinha e que, quando vou escutar a gravação, acaba lembrando meu pai, minha mãe, lembra minha vizinha que era minha conselheira espiritual, lembra minha amiga dona Luiza que morreu com 106 anos, lembra minhas crianças, lembra, lembra, lembra. Porque isso tudo me habita. São muitas as vozes, as que eu identifico conscientemente, e as vozes possíveis, como a voz dessa mulher do poema que você disse (“Mulher na água”).

Retirado do livro “Impossível como nunca ter tido um rosto” (2015)
De fato, recebi um videozinho de uma amiga minha em Marselha, que estava muito triste, e lá se reencontrou com suas alegrias, e me fez pensar nisso: o que é uma voz trazida de volta à vida e que, com isso, traz a pessoa que essa voz habita a uma vida mais ampla — que é uma vida que, talvez, só se possa ter no mar, porque o mar, tanto quanto a voz, te convida, na melhor das hipóteses, ou te obriga a ser, com ela, voz; com ele, mar. Não tem um entrar no mar que não seja perigoso, não tem um escutar a voz que igualmente não te tire do lugar, que não te leve a respirar diferente, porque voz é respiração também. Então, tudo isso é matéria a ser evitada, acho que o que as pessoas mais fazem é evitar escutar a voz, porque a voz num poema dito é mais perigosa ainda, porque ela não é a voz da canção que te leva por caminhos memorizáveis. A altura, o timbre, a intensidade: tudo isso pode existir no poema quanto maior for a perícia do performer, do performador, da atriz, do ator, mas, independentemente de haver perícia, existe algo na voz que nos desconserta, porque não há apoio rítmico, regularidade. Há um melos, mas não há uma melodia. A voz vai abrindo buracos na nossa sensibilidade e nos deixando em estado de quase total desproteção. O poema vai se dando, mesmo o poema que a gente já conhece, algumas camadas de sentido podem aflorar junto com aquelas que vão se perdendo também, e podemos pensar: “mas eu conheço esse poema há tanto tempo e não havia percebido isso”. Na canção, isso pode passar batido, porque a melodia te conduz, o ritmo regular, a levada, mas o poema, não. Essa inconstância rítmica, de algo que lembra a fala cotidiana, mas não é a fala cotidiana, lembra a melodia, mas não é melodia; é isso que se evita: a inconstância.
Falávamos, antes de começar a gravar, sobre a lógica neoliberal, e é ela que aparece também nessa recepção burocrática do poema, porque o poema é corpo, palavras são corpos, a voz é corpo; e nós, no mundo brancocêntrico e macho, temos como tarefa cotidiana eliminar tudo que aponte não para lógicas, mas para poéticas, e só pode haver poética onde há movimento. Voz é movimento que incita o movimento.
Pessoa-muitas
Ricardo Aleixo – Eu tenho trabalhado, nos últimos anos, com a concepção de “pessoa-muitas”. Eu sou pessoa-muitas, você é pessoa-muitas, todos somos pessoas-muitas, e a relação com as palavras também me faz pensá-las nesses termos, para o horror de muita gente — eu já vi esse horror estampado no rosto de quem me ouviu falar sobre o assunto; quando coordenei o curso, no ano passado, na UFMG, alguém comentou: “mas você está atribuindo dimensão de pessoa à palavra?”, respondi, “estou”, porque a palavra funda, funda mundos e funda sujeitos também. Eu sou um africano nascido fora da África, e penso que, assim como podemos falar pessoa-árvore, pessoa-ar, pessoa-vento, pessoa-água, pessoa-bicho… A questão é mais ampla, porque trata-se de des/humanizar a noção de pessoa; trazendo tanto palavra quanto voz para essa dimensão de pessoa — pessoas com as quais eu me relaciono enquanto poeta. Eu não sou criador de nada, eu sou um reconfigurador de possibilidades de diálogo entre aquilo que estou sendo (e o uso do gerúndio é uma referência explícita a Edouard Glissant, que troca o ser pelo sendo) está conversando com a pessoa que você está sendo, por meio dessas formas de vida complexas e incompletas chamadas palavras, por meio também dessas formas, talvez ainda mais complexas e ainda mais incompletas, que são as nossas vozes; o “nossas” aí entre aspas, porque não possuímos uma voz, impossível possuir uma voz.
O amor
Ricardo Aleixo – O amor é um dos temas mais recorrentes, porque eu, como digo sempre que posso, sou fruto do amor de duas pessoas que quiseram que eu nascesse. Meu pai se foi com 97 anos, lúcido; minha mãe teve Alzheimer e morreu com 91 anos. No dia de sua morte, Américo me falou do quanto foi transformadora a experiência de ter tido minha irmã Fatima e eu, ele falou assim: “vocês são mais do que filhos, vocês são abençoados”. A última frase lúcida que minha mãe disse para mim ocorreu num dos dias em que fui visitá-la: ela saiu bruscamente do mutismo em que vivia, colocou o dedo em riste na minha direção e disse: “eu tenho certeza que não fiz nada de errado com relação à sua educação e à de sua irmã” e voltou para a zona de sombras onde ela estava. Eu sou fruto disso: da experiência de poder viver por muitos anos com as duas pessoas mais amorosas, inteligentes e sensíveis que conheci. Eu sou uma demonstração, para mim mesmo, de que existe amor que não se reduz a um programa mercantil, seja de Hollywood, seja da Netflix, seja da rede Globo. Um amor que se aproxima muito da concepção de um dos teóricos que mais leio, o pensador chileno Humberto Maturana, que afirma, taxativamente, que o amor é o que organiza a sociedade. Outras concepções de amor que me interessam estão em Paulo Leminski, que fala do amor pela linguagem. Parte da compreensão que eu tenho de linguagem vem dessa afirmação de Leminski, que vai mais longe: ele chega a falar do ofício de poeta como uma espécie de santidade, porque é uma entrega sem espera de recompensa. Isso me parece muito próximo da concepção do amor por pessoas. A palavra “família” não me é muito familiar, pois vem de uma etimologia muito carregada, famulus, que designava o escravo doméstico. Não gosto muito da etimologia, mas gosto daquilo que aproxima as pessoas a partir de uma visada comum. A instauração do comum me interessa, seja na relação entre pai e mãe e seus filhos, seja na relação entre um grupo de pessoas que descobre afinidades e, a partir dali, toca um projeto de vida comum. É sempre o comum que me interessa, e pensando em termos da relação que poderíamos definir como afetivo-erótica, eu sempre tive muita vontade de viver isso para além dos programas do neoliberalismo. E como é possível, numa sociedade que cada vez mais incentiva o individualismo, viver uma relação com uma mulher ou com um homem sem querer ser dono, dona, sem que a ideia de posse e propriedade prepondere? Como buscar, nesse espaço, o comum? O que é que pode ser comum sem inviabilizar o direito à individualidade, o direito à sozinhez, que é diferente de solidão. Sozinhez é uma palavra que entrou no meu vocabulário em momentos diferentes, quando uma amiga muito amada, Zora Santos, falava de sua sozinhez, me lembrei que já a conhecia de uma crônica de Paulo Mendes Campos. Nem sei se Zora leu essa crônica, mas, quando penso na palavra, penso em Zora e em Paulo Mendes Campos. Isso eu tentei sempre buscar nas relações que vivi, e é o que vivo hoje. Quem acompanha meu trabalho, sabe da importância que tem pra mim a relação com Natália Alves, que é uma pesquisadora do espaço urbano, e que, na relação comigo, deixa aflorar as suas vontades de fazer arte ao mesmo tempo em que me permite, por meio do acompanhamento diário de suas pesquisas acadêmicas, viver de outra perspectiva essa questão do espaço, que é muito importante para o meu trabalho como criador e artista. As bases de fundação do comum para nós aparecem em várias pontas, naqueles interesses que são particulares tanto pra ela quanto a mim, o que me leva a pensar que nos tornamos os primeiros leitores um do outro. É muito raro que tenha alguma coisa, seja uma postagem nas redes sociais, seja um texto teórico, poema e tal, que não tenha sido lido por nós dois antes, muitas vezes, com apontamentos muito duros. Nos conferimos a autoridade para dizer que isso aqui, às vezes, é melhor evitar. Um exemplo que te dou ocorreu no ano passado, quando uma discussão sobre estupro estava acontecendo nas redes sociais e eu sentia que tinha a obrigação de me posicionar, e aí fiz algo que me pareceu movido mais pela indignação e pelo senso de responsabilidade do que propriamente por uma qualidade poética, já mostrei para ela inseguro e ela falou “não, isso aí não; é melhor ficar calado”. Estou falando de pessoas que se concedem o direito de entender juntos, entender qual a melhor direção a seguir, porque o que acontecer comigo vai afetá-la, e o que acontecer com ela vai me afetar. Curiosamente, viver esta dimensão de relação, que é diferente de estar numa relação, estar numa relação é outra coisa, é quase que uma resposta às cobranças que a sociedade faz, no sentido de ter no relacionamento a afirmação de que você não fracassou, perceba o verbo “ter alguém”, alguém precisa “ter” você. Viver em relação é ser com quem quer ser com você, com quem escolheu ser com você e não com quem tem você e a quem você tem. Mas o que a gente vai fazer com todo esse repertório das canções, dos poemas e dos filmes que afirmam continuamente “eu sou sua… eu sou seu”? Muita calma nessa hora, porque não se trata de abolir esses termos, mas de relativizá-los em favor da percepção, a mais serena possível, daquilo que só pode ser vivido com aquela pessoa, mas não num nível de dependência nem mesmo codependência ou interdependência, mas, sim, num nível de compreensão de que eu fui, eu sou e estou sendo e esta outra pessoa foi, é e está sendo capaz de gerar algo que podemos chamar de nosso, de comum, e que isso implica tanto no afeto pensado de modo mais geral, quanto no sexo, nos gostos literários, artísticos, nos prazeres compartilhados, como beber juntos, viajar. Naquilo, afinal, que vai fazendo com que a vida seja mais vida. A meta é sempre essa e, até aqui, tem funcionado bastante para que eu me sinta à vontade para falar publicamente disso, porque nós reparamos muito, Natália e eu, o quanto pessoas que sabemos que vivem bons relacionamentos não têm, a despeito disso, o prazer de demonstrar em público que estão enamoradas. Nós fomos, há algum tempo, numa vernissage repleta de gente, mas praticamente não se viam casais, mas nós sabíamos que algumas pessoas ali formavam casais. Esse acontecimento foi uma conversa de semanas entre nós: “por que tais e tais pessoas, que sabemos que vivem bem, mal se olham em público?”, claro que isso tem relação com os acordos de cada casal. Para nós, num contexto em que nós todos somos constrangidos a nos exibirmos nas redes sociais, o importante é como manter a honestidade para conosco e pensar como é possível pensar outras formas de vínculo sem expor a nossa vida. Como as redes sociais são para mim um lugar de trabalho, de reflexão e de crítica, e para ela também, costumamos pensar em qual medida podemos falar de uma viagem que fizemos juntos, por exemplo, o que é que vou falar só com as pessoas muito queridas no espaço da intimidade e o que é que pode ser publicizado. Quando fui diagnosticado com glaucoma, em 2021, tomei a decisão de publicizar isso, porque, como pessoa pública, eu não posso ficar exposto a interpretações, a ilações que as pessoas venham a fazer. Aquilo que aconteceu no dia da consulta foi transformado em poema e está no Diário da encruza (2022, p. 84), cujo título é “Mas visível”. Na ocasião, eu iria sozinho à consulta, mas Natália insistiu em ir comigo, bom, o poema conta o que aconteceu:

O que estou afirmando nesse poema é que, se Natália não tivesse ido, eu não teria escutado com a devida atenção, porque fiquei em estado de choque, as prescrições do médico que ela acabou anotando: passar na farmácia para comprar remédios, realizar os preparativos para a cirurgia dali a 4 dias. Se eu hoje estou enxergando, é por força do amor, da presença física e da autoridade que ela teve que assumir diante do médico para ouvir por mim e poder informar à minha irmã, às minhas filhas. É algo que ultrapassa essa dimensão romântica mas, ao mesmo tempo, nós nos concedemos o direito de não abolir a dimensão romântica de uma experiência que nos chega em momentos da vida tão especiais, especiais no sentido de podermos, em meio à pletora de gente que existe no mundo, encontrar quem é a pessoa que a gente quer compartilhar o dia a dia, porque, se tem uma grande conquista na cultura contemporânea, é essa da autonomia que as mulheres finalmente começaram a ter e da qual não devem abrir mão e que tem entre suas pautas a recusa radical do amor romântico, mas aí eu acho que é preciso separar uma coisa da outra coisa. O rol de perversidades que a concepção do “romântico” esconde precisa ser sempre lido com lupa, mas e aquilo que só na experiência do encontro, que é sempre fatal, e aquilo que na experiência cotidiana da partilha “olha aqui como isso aqui é gostoso, experimenta… escuta isso que eu li… ouve essa música… mais uma cerveja” e as piadas bobas, as brincadeiras sem graça, tudo isso é tão importante quanto discutir o orçamento do mês, onde serão passadas as férias, o que se escreve ou não nas redes sociais, ter ou não ter filhos. E o bom para nós, os autodefinidos humanos, é que esse estoque de possibilidades só se expanda, que outras configurações tenham se tornado possíveis, que a forma casal continue a ser questionada por quem opta por outras variáveis, a minha é essa, a minha concepção de amor pede, nesse momento da existência, isto que eu vivo e a melhora disto. É assim.